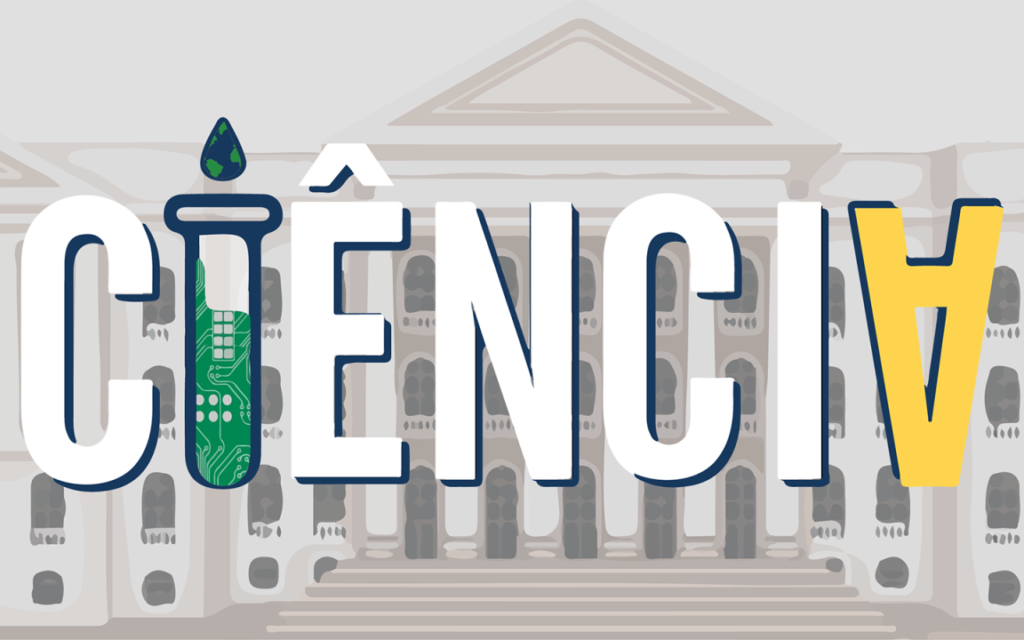
QUEM QUER SABER (DE) CIÊNCIA?
“Eu vivo pensando: talvez, se eu entendesse um pouco de ciência, a história da minha mãe e da minha irmã não me assustasse tanto.” Essa é uma afirmação de Deborah Lacks, transcrita do livro A vida imortal de Henrietta Lacks, de Rebecca Skloot, versão em português publicada em 2011 pela Companhia das Letras. Deborah falava de seu sofrimento por não compreender o significado da vida de sua mãe, Henrietta, para a ciência e a doença de sua irmã, Elsie. Henrietta Lacks foi uma mulher negra e pobre do sul dos Estados Unidos, vitimada por um violento câncer de colo de útero, do qual foram extraídas células mantidas em cultura para o estudo da biologia do câncer e de outros fenômenos celulares. São as células HeLa, fundamentais para o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite, entre outros avanços na área biomédica. A contribuição das células HeLa para a ciência, bem como os desdobramentos bioéticos, são imensuráveis. Sua filha Elsie foi internada no Centro Hospitalar Crownsville (Hospital para Negros Insanos) ainda criança e lá morreu com diagnóstico de idiotice. Na verdade, possivelmente era portadora de epilepsia e de sequelas neurológicas de uma sífilis congênita. Existem suspeitas de que tenha sido utilizada em experimentação humana. Todos esses acontecimentos se deram sem o conhecimento da família Lacks, entre 1950 e 1960, época em que a regulamentação das pesquisas envolvendo seres humanos emergia de horizontes nebulosos e a Bioética não era ainda uma ciência estabelecida. Quase 50 anos depois, Deborah Lacks julgava que entender melhor a ciência poderia tê-la ajudado a sofrer menos. E eu me pergunto: o que seria “entender a ciência”? Como alcançar esse “entendimento”?
Meu lastro teórico para essa discussão é bastante limitado. Assim, o que apresentarei constitui-se de breves relatos de minha experiência com divulgação científica, acompanhados de reflexão livre. Expressarei, sobretudo, dificuldades. Dificuldades que pesquisadores possuem para apresentar os resultados e as implicações do seu trabalho aos cidadãos não envolvidos com o fazer científico. Dificuldades para compreender e se fazer entender. Dificuldades para dialogar, romper barreiras culturais (sim, porque entendo a ciência também como uma cultura). Nesse sentido, talvez seja mister apresentar minhas credenciais científicas, que darão notícia das minhas deficiências filosóficas e do meu domínio circunscrito de conhecimento: farmacêutica, farmacologista experimental e pesquisadora na área de desenvolvimento de fármacos há quase 30 anos.
Ao longo de minha carreira, participei de inúmeras entrevistas e debates, proferi palestras e publiquei textos na imprensa leiga, em princípio com a finalidade de informar à população as evidências científicas nos meus domínios de atuação. Registro e qualifico esse tipo de atividade como “de educação e popularização em ciência e tecnologia” no meu currículo na Plataforma Lattes do CNPq e nos Relatórios de Atividades dos Programas de Pós-graduação aos quais estou ligada. São iniciativas que aos poucos vêm sendo reconhecidas como atividades-fim do pesquisador. Contudo, na maioria das vezes, sinto que meu discurso de pesquisadora não se acomoda no tempo, no espaço e na linguagem da mídia e que, talvez, também não se alinhe à perspectiva do espectador/ouvinte/leitor. Parece-me que há ainda um despreparo do cientista e da imprensa (que pode também não estar efetivamente interessada) para essa comunicação.
Segundo o CNPq, a divulgação científica é uma atividade complexa pela qual os conhecimentos científicos e tecnológicos são colocados ao alcance da população para que esta possa utilizá-los nas suas ações cotidianas e tomadas de decisão. No Portal do CNPq, há uma aba denominada “Popularização da Ciência” que lista os seguintes meios e instrumentos de divulgação científica: congressos, seminários, colóquios, palestras, conferências, publicações variadas (livros, revistas, jornais, folhetos), museus com exposições abertas ao público, jardins botânicos, planetários, filmes, vídeos, programas de rádio e TV, internet, centros de ciência e parques temáticos, incluindo escolas, faculdades e universidades. Mas qual a efetividade de tudo isso em alcançar as Deborahs Lacks de nosso país? Não se tem medida.
Não me refiro apenas à dificuldade de acesso de grande parte da população à educação formal de qualidade, aos serviços de saúde e aos bens culturais. Refiro-me a algo um pouco mais difuso e difícil de quantificar: a descrença, a negação da ciência enquanto um bem humano! A reportagem de capa da mais recente edição da revista National Geographic intitula-se Guerra à Ciência e relata, por exemplo, que um terço dos norte-americanos acredita que os seres humanos existem desde o princípio do mundo e que o movimento antivacinação se alastra nos Estados Unidos. E esses fenômenos não parecem estar diretamente relacionados a baixos níveis educacionais ou socioeconômicos.
Em 2013 , quando ativistas pró-direitos dos animais invadiram o Instituto Royal, em São Paulo, e de lá retiraram cães utilizados em pesquisas de novos medicamentos, tive a oportunidade (por conta de minha atuação como Coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRGS) de conversar longamente com vários profissionais sobre o tema, entre eles jornalistas e políticos, e fiquei impressionada com a ignorância e o preconceito científicos que testemunhei. Na verdade, não foi uma experiência nova, apenas mais contundente, pelo clima apaixonado que a cercou. Tive essa mesma impressão outras vezes em instâncias profissionais e também na esfera das relações pessoas, ao discutir temas de meu domínio, como as potencialidades e limitações da utilização de plantas na terapêutica, a gênese e o tratamento farmacológico das doenças mentais. A maioria das pessoas leigas simplesmente desconhece como funciona a ciência e os preceitos éticos e legais que normatizam e regulam o fazer científico. Mesmo assim, emite opiniões incisivas sobre o que considera certo ou errado em ciência e o que supõe constituir a práxis e a motivação dos cientistas.
Também entre cientistas, quando entram em cena diferentes esferas da ciência, o diálogo não é fluído. O fazer científico não é uno. Um cientista social pode se comportar como um leigo cético diante de um cientista exato, e vice-versa. São os guetos científicos, por assim dizer. A perspectiva e os parâmetros de valoração de quem trabalha com ciências humanas são diferentes dos daqueles que trabalham com ciências exatas ou biológicas, por exemplo, ainda que seja intrínseca uma convergência: a necessidade de interpretação da realidade, a busca de elementos para decidir no que acreditar ou deixar de acreditar e em que se basear para tomar decisões.
À procura de conforto intelectual, poderíamos supor que se trata apenas de uma necessidade de harmonização entre diferentes linguagens. De fato, muitas vezes trabalhamos a decodificação da linguagem de determinado domínio científico para uma linguagem compreensível ao leigo como se fosse esse o único obstáculo a ser transposto para a sua divulgação e popularização. Mas é bem mais do que isso. Ou, então, acreditamos que a popularização da ciência se dará, sobretudo, pela expansão das possibilidades de inclusão de setores historicamente desfavorecidos da população ao mundo do fazer científico. Por certo que é uma meta a ser trabalhada com determinação, mas penso que as raízes do problema são também metafísicas e políticas, no mais amplo sentido que essas palavras possam ter.
O método científico não é algo natural para a maioria das pessoas. Ele conduz a verdades pouco evidentes, que muitas vezes contrariam o senso comum construído pelo que os sentidos humanos permitem registrar. O método científico busca rejeitar hipóteses, enquanto o ser humano almeja a confirmação de suas certezas preconcebidas. A ciência não nos garante verdades confortáveis e eternas. Ela traz conhecimento, mas nem sempre alívio. Por vezes, desampara e, ao mesmo tempo é instrumento de poder; poder tradicionalmente destinado a poucos. Arrisco, então, dizer que a negação das evidências científicas pode ser também a expressão de uma sinuosa busca de segurança, autonomia e empoderamento.É um paradoxo, pois me parece que a verdadeira autonomia, e todas as suas consequências libertadoras, reside justamente na apropriação da ciência por parte do indivíduo. E não vejo forma mais eficiente nem mais urgente de alcançar isso do que a internalização da ciência e do método científico por crianças em idade escolar. para além da informação está a formação! Nesse sentido, é importante destacar iniciativas de agências de fomento, como os Programas Novos Talentos e Picmel, da Capes e Fapergs, respectivamente, que oferecem aos professores e estudantes do ensino básico de escolas públicas a oportunidade de fazer ciência em parceria com as universidades.
O indivíduo precisa viver o alumbramento da descoberta e, ao mesmo tempo, entender que a descoberta não é fruto da iluminação de uns poucos, mas do trabalho coletivo, do exercício constante de um método que todos podem aprender. No processo de divulgação, popularização e democratização da ciência, é imperativo desmitificar o cientista, que precisa ser visto como uma pessoa que teve um treinamento especializado, passível de erro e sujeito a pressões, como tantos outros profissionais. Roberto Lent, neurocientista e um dos fundadores das revistas Ciência Hoje e Ciência Hoje das Crianças, diz que o mito do cientista genial afasta as pessoas, fazendo-as pensar que a ciência não é para elas ou para suas famílias, porque não são geniais. É a porta aberta para o obscurantismo, o dolorido assombro de Deborah Lacks!
Por Stela M.K.Rates/Pesquisadora do CNPq e coordenadora do PPG em Ciências Farmacêuticas da UFRGS.







