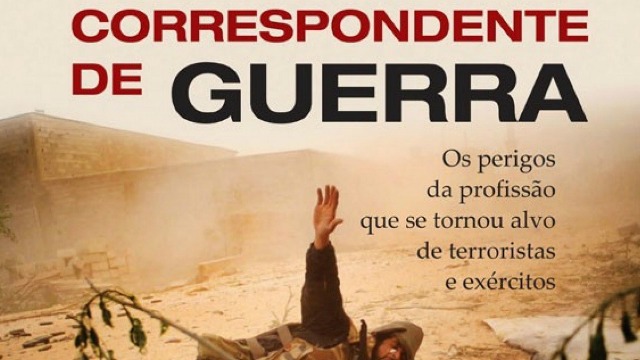
OS PERIGOS DA HONESTIDADE
Em uma obra conjunta, Diogo Schelp, editor executivo de VEJA, e o premiado fotógrafo André Liohn examinam o crescente risco de vida que correm os jornalistas destacados para a cobertura das guerras contemporâneas.
“Eu não gosto de ver gente morta ou machucada. O mínimo que podemos fazer é documentar aquilo com honestidade, sem filtros.” A declaração é de André Liohn, um paulista de Botucatu que em 2012 se tornou o primeiro latino-americano a ganhar a medalha Robert Capa, honraria batizada em homenagem ao húngaro que foi o mais famoso dos fotógrafos de guerra. Em seu depoimento ao jornalista Diogo Schelp, editor executivo de VEJA, a defesa da honestidade é uma condenação dos colegas que usam aplicativos do iPhone “para fazer imagens com cores saturadas ou bonitinhas da guerra”. No entanto, a ausência de filtro pode ser lida também como uma declaração de princípio que atravessa todo o livro CORRESPONDENTE DE GUERRA, assinado a quatro mãos por Schelpe Liohn.
Não se trata de um livro de fotos. Só as últimas trinta páginas são reservadas às imagens cruas, nervosas, feitas à queima-roupa por Liohn entre 2010 e 2011 em regiões de conflito armado – com destaque para a Líbia durante a guerra civil que pôs fim à ditadura de Muamar Kadafi. Dividido em dois blocos – o primeiro uma história sucinta do jornalismo de guerra assinada por Schelp e o segundo um relato em primeira pessoa da experiência de Liohn em alguns dos mais sangrentos conflitos contemporâneos –, o texto busca respostas para perguntas agrupadas ao redor de uma dúvida maior: “Por que a atuação dos correspondentes de guerra é mais arriscada hoje do que jamais foi ao longo da história?”.
As respostas são múltiplas, mas giram em torno de um eixo principal, o mesmo que baliza as grandes transformações deste século em qualquer ramo de atividade: a revolução digital. De 1792, quando o jornal londrino The Times inventou de cobrir a Revolução Francesa, até fins do século XX, o ofício de correspondente de guerra passou por fases variadas, mas quase sempre se beneficiou de um pressuposto de neutralidade. Este, apesar de muitas vezes periclitante e até mesmo avacalhado por coberturas torcedoras como a de Winston Churchill na I Guerra Mundial, sustentava-se na utilidade que a veiculação de informações – não todas, mas as que pudessem ser usadas como propaganda, essa poderosa arma de guerra – tinha para os dois lados de qualquer conflito. Vinte anos atrás, a campanha de execuções cruéis encenadas pelo Estado Islâmico precisaria do jornalismo profissional para ganhar o planeta. No mundo das redes sociais, porém, correspondentes de guerra se viram deslocados da posição de mensageiros para a de alvos fáceis das atrocidades. Como diz Liohn sobre a guerra civil na Líbia: “A palavra PRESS (imprensa) pintada no capô de um carro seria lida pelos soldados – e por muitos rebeldes também – como ‘por favor, atire em nós’”. Na Guerra do Vietnã (1954-1975), para cada jornalista de qualquer nacionalidade morto, o número de baixas militares americanas foi de 920. Na Guerra do Iraque (2003-2011), a proporção passou a ser de um por trinta - “um assombro”, espanta-se o normalmente comedido Schelp. É impossível discordar.
Um dos marcos desse novo tempo foi a decapitação pelo EI, em 2014, do fotógrafo americano James Foley, amigo de Liohn. Em meio a histórias pitorescas envolvendo malucos que se passam por jornalistas para brincar de guerra e contra o pano de fundo da deterioração de seu casamento, o fotógrafo que coassina o livro pontua seu relato de forma sinistra com um número crescente de colegas mortos. Por que prosseguir nessas condições? Como não admitir a vitória dos que odeiam a liberdade de expressão? CORRESPONDENTE DE GUERRA vai buscar na infância pobre e violenta de Liohn em Botucatu uma resposta que sabe insuficiente. Talvez a explicação exija que joguemos na fórmula uma pitada de insanidade, mas de todo modo fica a certeza, também desprovida de filtro, de que sem tal testemunho seria ainda pior este mundo mau.

Fonte: Veja/Sérgio Rodrigues em 13/04/2016.








