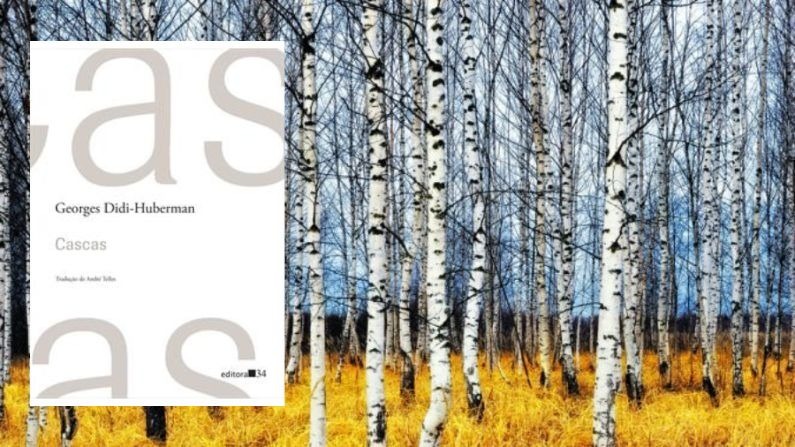
A SUPERFÍCIE DO CAMPO
É muito fácil e muito difícil escrever sobre uma visita a Auschwitz. Ao menos foi essa a minha experiência quando lá estive, dez anos atrás.
No prólogo de A GAIA CIÊNCIA, Nietzsche afirma que “os gregos eram superficiais – por profundidade”. Para o filósofo alemão, a densidade ontológica acontece na própria superfície, esfacelando, assim, a ideia de que por trás de toda máscara esconde-se a verdade absoluta. A verdade está na pele, nos poros, na aparência, não no segredo oculto, no tesouro guardado.
Ao longo do século XX, muitos filósofos deram continuidade a essa concepção nietzscheana. Deleuze e Foucault, por exemplo, não cansaram de desmontar a ideia de verdade única e profunda. E o poeta, dramaturgo, artista plástico Antonin Artaud, com sua poderosa imagem de um corpo sem órgãos, acabou se tornando um dos grandes inspiradores de um pensamento que exalta a superfície, a aparição das coisas, não o que elas supostamente escondem.
O recente livro de Georges Didi-Huberman,CASCAS (editora 34), é um passeio pela superfície de um dos eventos mais dramáticos do século XX: o Holocausto. Superfície no sentido grego, nietzscheano. Superfície da pele, do órgão aparente e sensível. Superfície onde somos tocados, o receptáculo das emoções. Mistura de texto epistolar, ensaio, relato de viagem, ensaio fotográfico, CASCAS nasce de uma viagem do autor a Auschwitz-Birkenau, antigo campo de extermínio nazista e atual museu.
É muito fácil e muito difícil escrever sobre uma visita a Auschwitz. Ao menos foi essa a minha experiência quando lá estive, dez anos atrás. Os momentos que precederam a viagem foram de muita desconfiança; Transformar o lugar onde milhões de pessoas morreram num lugar onde qualquer um circula, tira fotografias, em suma, um museu ao ar livre, me parecia de extremo mau gosto, uma espécie de Disneylândia do sofrimento. Mas a alternativa – destruir o local ou mantê-lo fechado – não me parecia nada sensata.
Antes da viagem, eu era um enorme pé atrás. Cheguei lá num mês de julho, em pleno verão. Como tantas outras pessoas, fui me desarmando no decorrer da visita. Primeiro com os detalhes, com o vermelho de um sapato ou a bolsa de alguém, os objetos que sobreviveram às pessoas, aos nomes. Em seguida, com a vastidão do campo. Eu andava, andava, e aquilo não terminava. Era essa aparente infinitude, de onde os restos apareciam aqui e ali, que me trazia a sensação de atrocidade.
Imagino que a maioria das pessoas que visita Auschwitz sinta essa contradição entre a experiência do museu e a experiência da emoção. É estranho que um local de extermínio tenha se tornado um museu, ordenado, articulado, orientado. Mas é praticamente impossível não se emocionar em algum momento da visita, pois há sempre um ponto que escapa à ordem, ao controle – e é esse ponto que nos traz o mal ali cometido.
CASCAS é a escrita dessa contradição. Auschwitz, lugar de barbárie, foi transformado em lugar de cultura, lugar de memória, museu de Estado. Um galpão fotografado por Didi-Huberman hoje funciona como estande para a venda de guias, vídeos, livros, obras pedagógicas sobre o sistema concentracionário nazista. Uma fotografia tirada às cegas pelo autor mostra um passarinho entre uma cerca de arames farpados dos anos 1940 e outra, mais recente. Por que teriam colocado lá esta cerca? Para orientar os visitantes? Para restaurar uma cerca destruída pelo tempo? Sem saber, afirma Didi-Huberman, o passarinho pousou entre a barbárie e a cultura.
O livro começa com três pedaços de casca de bétula. Ou, antes, com um sol escaldante que, ao cegar o viajante, o obrigou a olhar para baixo, para o chão, para a superfície do campo, onde ele viu as raízes das árvores. Depois de ter disposto as três lascas num papel, “três lascas de tempo”, Didi-Huberman percebeu que elas se inscreviam como uma carta, mas uma carta para quem? Talvez para o filho: “Eu morto, o que pensará meu filho quando topar com esses resíduos?” Talvez para os filhos de forma geral, a transmissão de um passado que não queremos que se repita e, por isso mesmo, se faz presente.
Alguns anos atrás, mais precisamente em 2001, iniciou-se um debate público na França entre Didi-Huberman e Claude Lanzmann, diretor de um importantíssimo documentário sobre o Holocausto, SHOAH, a propósito da exposição de fotografias dos campos de concentração e de extermínio nazistas. Lanzmann defende que essas fotografias não devem ser mostradas, enquanto Didi-Huberman ressalta o contrário. Dessa discussão, nasceu seu célebre livro IMAGENS APESAR DE TUDO, em que Didi-Huberman defende a ideia de que é preciso imaginar – e ver as imagens existentes – de um evento concebido como inimaginável.
A dor, o sofrimento e o terror do Holocausto ficaram associados ao conceito de indizível. Impossível expressar o que lá se passou. Impossível, até, imaginar o que lá se passou. Como um segredo, algo profundo demais para ser revelado, mostrado. Tão cruel que atinge a impossibilidade de representação. Tão cruel que impede a sua própria existência. Insistir no imaginável não seria, então, reiterar o próprio desejo nazista de apagamento? Na entrevista concedida a Ilana Feldman, no final do livro, Didi Huberman afirma: “Gravar no mármore que a Shoah é inimaginável é, de certa forma, realizar o próprio anseio dos idealizadores da ‘Solução Final’, que a queria, com efeito, inimaginável, impensável e invisível aos olhos do mundo circundante”.
Diante da rampa de triagem em Birkenau, Didi-Huberman sussurrou: “Isto é inimaginável”. Sim, de fato, a dor e o absurdo são tão grandes que esta é a primeira palavra que nos vem à boca. Mas justamente por ser inimaginável precisamos imaginá-lo, apesar de tudo. Não podemos, diante do horror, nos resignarmos ao impasse da imaginação. As fotografias tiradas por um membro do Sonderkommando, que Lanzmann queria escondidas, são a revelação – na superfície de um papel fotográfico – daquilo que aconteceu.
O embate entre Lanzmann e Didi-Huberman pode ser entendido como o embate entre o profundo e o superficial. Um vê o Holocausto como um acontecimento que jamais poderá se tornar imagem, que só pode ser evocado pela escuridão, pelo que não é, pelo que está oculto. O outro traz a experiência passada para a ordem do sensível, da revelação (das fotografias). Ele traz a dor e a memória à superfície, convocando a imaginação, a imagem, o que há de mais superficial: a fotografia, a escrita, o papel, a casca.
Ao passear pelo campo, Didi-Huberman olha para a sua superfície. Para o seu chão, seus restos, seus vestígios. Faz o trajeto daquilo que se mostra, que se apresenta. Birkenau significa, literalmente, a pradaria onde crescem as bétulas. Birken é bétulas. O lugar que os alemães escolheram para matar milhões de judeus é um bosque de bétulas. E as bétulas, testemunhas mudas da dor, podem nos contar essa história. Suas cascas, que Didi-Huberman dispõe numa folha de papel, são uma carta para os que ficaram. Elas resistem, insistem em murmurar as vozes dos que partiram mas aqui permanecem. “A destruição dos seres”, afirma Didi-Huberman, “não significa que eles foram para outro lugar. Eles estão aqui, decerto: aqui, nas flores dos campos, aqui, na seiva das bétulas, aqui, neste pequeno lago onde repousam as cinzas de milhares de mortos.”
Na zona ao redor dos crematórios IV e V, a própria terra expele vestígios do extermínio. “As inundações provocadas pelas chuvas, em particular, trouxeram incontáveis lascas e fragmentos de ossos à superfície, de maneira que os responsáveis pelo sítio se viram obrigados a aterrá-lo para cobrir essa superfície que ainda recebe solicitações do fundo, que ainda vive do grande trabalho da morte”. Se o lugar de cultura esconde, enterra, o bosque mostra, escreve. “nunca poderemos dizer: não há mais nada para ver. Para saber desconfiar do que vemos, devemos saber mais, ver, apesar de tudo. Apesar da destruição, da supressão de todas as coisas. Convém saber olhar como um arqueólogo”.
O museu de Estado muitas vezes falha na tentativa de levar o visitante ao lugar da barbárie: “As paredes de Auschwitz nem sempre dizem a verdade”, como se Auschwitz fosse esquecido em seu próprio lugar, “para constituir-se como um lugar fictício destinado a lembrar Auschwitz”. A ordenação do “lugar de memória” termina, repentinamente, por enterrar o próprio passado. O caminho de Didi-Huberman pelo campo, ao contrário, permite a emergência do real ali presente.
O chão não mente. Os nazistas que explodiram os prédios para destruir as provas do Holocausto se esqueceram de destruir os solos. Portanto, onde quase tudo foi destruído, o que resta para ver é o “chão fissurado, ferido, varado, rachado. Escoriado, dilacerado, aberto. Desagregado, estilhaçado pela história, um chão que berra.” Didi-Huberman, ao olhar para baixo se protegendo do sol, enxerga os vestígios, os arquivos, o solo do tempo.
“As árvores também prezam a própria pele”, diz ele. Dessa pele – a casca – eram feitos os suportes de textos e desenhos na Antiguidade e na Idade Média. Da casca da árvore vem o papel, a escrita, aquilo que fica. “A casca não é menos verdadeira que o tronco. É inclusive pela casca que a árvore, se me atrevo a dizer, se exprime. Em todo o caso, apresenta-se a nós. Aparece de aparição, e não de aparência”, escreve Didi-Huberman. É, portanto, às árvores do campo que ele dirige as suas perguntas. Às bétulas, “a rigor os únicos sobreviventes que continuam a crescer por aqui.”
Fonte: Revista Valor/ Tatiana Salem Levy (doutora em letras e escritora tatianalevy@gmail.com) em 16/02/2018.








